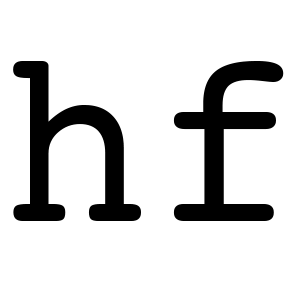Na casa/ateliê de Helen Faganello
Helen Faganello me convidou para visitar seu ateliê/casa na cidade de São Paulo, antes de se mudar para o interior do Estado. Fiquei emocionada ao entrar na vila de casinhas, que fica em pleno Jardins, em São Paulo, ao me lembrar que havia estado nessa mesma vila há uns trinta anos, quando a querida Aracy Amaral, que agora mora em um belo apartamento com vista para o Jardim Trianon, morava lá. Deve ter sido difícil para ela sair daquela vila tão agradável, com ares de interior, e se mudar para um apartamento que, embora seja maior, não tem o charme e a intimidade da vila, das crianças brincando, dos vizinhos conversando.
Estacionei minha Fielder, que já tem 14 anos, (mas que não troco nem a pau porque é o melhor carro que existe, na minha opinião) em frente à casa da Helen.
A vila continuava igual, exceto pelos prédios bregas, de novos ricos, que construíram em frente, bloqueando, por vezes, a luz do sol. Ela estava na porta da casa, número 30, onde o sol batia sobre muitas plantas espalhadas pela entrada. O pequeno corredor que dava para a entrada da casa, repleto de bambus, folhagens as mais diversas e uma linda trepadeira, cujo nome não me lembro, em flor. Em meio às plantas, alguns vasos de terra muito diferentes e lindos, que, depois, vim a saber, são feitos por ela.
Entrei na sala/ateliê, integrada à cozinha graças a uma reforma que manteve a identidade da casa, ao mesmo tempo tornando-a mais moderna e agradável ao nosso olhar do século XXI.
Na cozinha, haviam várias mini paisagens, pintadas com tinta a óleo e terra sobre pedaços de madeira, que captaram minha atenção. Vamos tomar um chá?, perguntou Helen, ao que imediatamente respondi sim. Fazia frio.
Subimos as escada iluminada por uma linda claraboia que dava para os quartos. Tudo simples e muito, muito acolhedor, como toda casa brasileira. Vi algumas pinturas antigas dela, que devia ser mesma época em que realizei o projeto com artistas do Ateliê Fidalga na Torre Santander, em São Paulo. Lembrei da pintura/ instalação que ela fez diretamente na parede do XX andar da Torre, e que encantou muitos funcionários que conviveram por seis meses com ela.
Descemos e fomos à sala/ateliê, onde, sobre uma pequena mesa de jantar, com quatro cadeiras, havia um bolo de iogurte e uma deliciosa mussarela, daquelas “de rasgar”, como minha mãe sempre comprava e chamava, e que eu não comia ha anos. O chá estava pronto.
Sentamos e começamos a conversar. Meu olhar estava inquieto olhando as pinturas, esculturas e vasos/esculturas que estavam ao nosso redor. Sobre a parede ao lado da mesa, uma série de pinturas, leques japoneses, objetos, obras de outros artistas, uma linda maquete para uma instalação que, para mim, já vale como instalação, e algumas pinturas, lindas, de vasos de vidro com Ctenanthe burle marx dentro, segurados pelas mãos da artista. Auto-retratos, ela me contou. Os mesmos vasos que eu havia visto no corredor de entrada da casa, e que também são fruto do trabalho desta artista tão envolvida com a natureza.
Helen não precisa ir ao interior ou à praia para estar em meio à paisagem. A paisagem está na casa dela, feita por ela junto com a natureza, que, é claro, sempre intervém em qualquer coisa que a gente plante. Me lembrei de Sandra Gamarra e do que ela disse quando fui à sua exposição na Galeria Leme, onde haviam grandes pinturas douradas onde, nos cantos, ela pintava pequenas paisagens de artistas do século XIX que registravam a América Latina. Lindas, inesquecíveis: “nós somos a paisagem”, me disse a Sandra Gamarra, quando conversávamos. A cultura ocidental nos afastou na natureza e nos levou a pensar que somos espectadores dela. Podemos “estar” espectadores dela no momento, mas sempre fizemos parte da natureza, e sempre faremos.
Depois de tantos anos, depois do projeto no Santander, entendi o trabalho da Helen e me emocionei. Mais ainda quando soube que ela vai deixar essa casa para se mudar para o interior, próxima à família. Senti que quem estava se mudando era eu...
E as plantas? E os vasos? E tudo que você construiu aqui? Me desesperei porque, para mim, o trabalho da Helen era a casa dela e tudo o que continha lá dentro. E chorei na hora de ir embora.... acho que ela não entendeu nada.
Hoje, estou tranquila, porque sei que as pinturas, vasos e plantas vão com ela, e estou certa de que ela vai construir um novo trabalho na sua nova casa.
Torço para quem ficar com a casa da vila cuide das plantas que lá permanecem e entenda que fazem parte da casa , da “paisagem”, e de qualquer um que com elas conviva.
Rejane Cintrão, 2021
texto da equipe curatorial Yolanda Cipriano e Josué Mattos:
Nesta quarta-feira (27/06/2019) às 19h, o CAC W - Centro de Arte Contemporânea W inaugura três exposições que fortalecem seu compromisso com a difusão de obras e artistas contemporâneos, cujo programa completa-se com oficinas práticas, debates, ações educativas, residências artísticas oferecidas a artistas em formação e uma pesquisa continuada sobre a obra da artista Weimar, fundadora do projeto.
Helen Faganello (Araçatuba, 1949) apresenta Alocasia Negra em Flora Brasiliensis, composta por pinturas, desenhos e esculturas. A série de obras reúne um conjunto de autorretratos em que a artista porta um terrário com a planta que intitula a exposição, um elemento tomado como figura de linguagem que faz do corpo o portador de estruturas complexas, como é o caso do planeta terrário-terra. A artista apresenta, também, um conjunto de esculturas construído de maneira a aproximar a brutalidade de materiais com elementos biomórficos, que convivem com diferentes espécies de plantas.
A segunda parte do título de sua exposição faz menção ao livro homônimo, editado entre 1859 e 1906 pelo botânico Karl Friedrich Philipp von Martius, no qual a artista se deparou com pranchas litografadas e repetiu o processo do editor, que consistiu em inserir espécies catalogadas entre 1817 e 1820. Em seu trabalho, a artista introduz a alocácia negra sobre desenhos que ela reproduziu,fornecendo chaves de leitura sobre processos migratórios e ações de naturalização, da paisagem e de espécies da flora brasileira. Rodrigo Bueno (Campinas, 1967) mantém o ateliê Mata Adentro, em São Paulo, onde realiza projetos que ele apresenta como iniciativas para "tecnologias do encontro". Em Hora do Levante, sua primeira exposição individual em Ribeirão Preto, reconfigura o espaço do CAC W com ações de longa duração, que interferem na arquitetura do jardim com plantas de poder, louros, arrudas, babosa, espada de São Jorge, cultivadas pelos cantos e bancadas. Estes ambientes são definidos pelo artista como espaços "em que a coleta, o cultivo e a cura ativam a sensibilidade e a memória ao longo da montagem." Da edícula do centro de arte, Bueno faz emergir presenças e narrativas periféricas, que revertem noções de margem e centro. Sua instalação, composta por objetos de descarte, retratos de negros e índios, plantas e espelhos, reconfiguram as dimensões do espaço expositivo e colocam o público dentro da obra proposta pelo artista. Envolvido por anos com narrativas dos povos originários e comunidades quilombolas, Rodrigo Bueno realizará, ao longo dos próximos meses, ações educativas, encontros à mesa, debates e oficinas, que farão de Hora do Levante um projeto heterodoxo, responsável pela aproximação de culturas e vozes que transitam pela região. Weimar (Ribeirão Preto, 1945), apresenta a instalação Transcurso, composta por cartas transcritas e registros áudios, objetos pessoais, retratos que se sobrepõem, como que a gerar lembranças comuns a todo ser vivo, transformando em quietude, verbo e poesia o ato e a experiência do luto. Com um conjunto de obras que se debruçam sobre o transcorrer do tempo, sobre suas marcas e presságios, a instalação recorre ao diálogo com o outro a partir de algo que nos aproxima, a saber, nossa experiência de consumidores de tempo que vê, ao longo do consumo, sua própria existência consumida. Em Transcurso temos a impressão que uma vida se faz de muitas, que cada instante documentado e rememorado é um sopro que se sustenta da saudade, força motriz que resguarda a presença dos ausentes. Alvinho é figura central na obra, assim como seus diálogos, percalços, desejos e planos, que se tornam públicos. Seus retratos se espelham e convidam o público ao contato direto com a passagem do tempo, em suas múltiplas configurações, reforçada com a presença de O tempo e o vento, de Érico Veríssimo, que a artista utiliza a partir de reproduções de uma das primeiras edições da obra seminal do autor. E se imagens e textos são testemunhas da busca pela vida ininterrupta, o manusear dos livros presentes na exposição sugerem e indicam recomeços, a cada nova leitura.